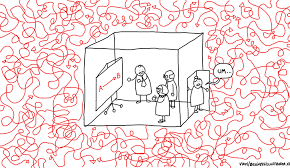Recentemente li interessante artigo dos advogados Carneiro e Ugeda intitulado ´A batalha dos dados no Plano Clima` (Valor Econômico, 04.09.2025). O texto faz um contundente alerta para o fato de que a escolha dos dados e do método a ser adotado para contabilizar as emissões faz uma significativa diferença no impacto estimado e, portanto, na política ambiental a ser proposta. Pode haver relação entre esse alerta com as estimativas de impacto social?
Vale dizer que o Plano Clima é justamente o marco interno que organiza e operacionaliza a NDC (Contribuição Nacionalmente Determinada) brasileira — ou seja, transforma os compromissos assumidos no Acordo de Paris (2015) em ações concretas e mensuráveis no território nacional, voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas com horizonte até 2035. O Plano Clima está baseado na identificação dos setores / áreas de emissões e no direcionamento das ações de remoção dos Gases de Efeito Estufa (GEE).
Os autores apontam para o “risco de fragmentação de fontes e metodologias que produzem métricas assimétricas, capazes de colocar o Brasil em desvantagem”. Segundo eles, foi o que ocorreu com o setor agropecuário, pois o Plano Clima atribuiu a ele (sozinho) a responsabilidade por 70% das emissões brutas provocadas pelas mudanças no uso da terra. Esse elevado percentual derivou de uma estimativa que não teve sequer o “respaldo pleno nas práticas consolidadas dos organismos multilaterais, impondo peso desproporcional à agricultura brasileira, que passa a ser tratada como vilã global”.
Outro aspecto preocupante mencionado no artigo, advindo dessa “batalha dos dados”, é a disputa dentro do país pela alocação setorial das emissões. Assim, quando no âmbito do Plano Clima, se decide atribuir determinado consumo de combustíveis fósseis ao setor Agropecuário, por exemplo, e não ao setor de Energia, é claro que essa decisão quanto à alocação dos dados vai ter implicações regulatórias e na geração de potenciais passivos ambientais para aquele setor responsabilizado. Isso ilustra o fato de que o como se usa os dados (de emissões), ou se faz a alocação deles, está longe de ter apenas caráter técnico e neutro, como defendem alguns analistas mas, no fundo, é uma questão de poder. Pois são esses aparentes “detalhes metodológicos” que vão ser decisivos, em última instância, para definir a “redistribuição dos custos da transição climática e a disputa de bilhões de reais” entre as empresas e setores.
Daí, e para dirimir esses conflitos que estão surgindo dentro do Plano Clima, os autores recomendam “a necessidade de uma entidade central (dentro do país) capaz de coordenar metodologias, harmonizar dados e alinhar-se a padrões internacionais…. Sem isso, qualquer sistema (de levantamento dos dados) perde credibilidade junto a organismos multilaterais e mercados”.
Há relação entre esse alerta com as estimativas de impacto social?
A meu ver, sim. Pois dependendo dos dados utilizados, e como eles são utilizados, os resultados reportados para um mesmo projeto social podem ser totalmente distintos.
Assim, suponha um projeto de desenvolvimento integral para crianças e adolescentes. Quando se afirma que quem participou do projeto teve probabilidade 3 vezes maior de ser profissionalmente bem-sucedido do que quem (morando no mesmo local) não participou, é preciso estabelecer com clareza quais foram os parâmetros adotados. Ou seja, como os conceitos de “desenvolvimento integral” ou “sucesso profissional” foram medidos; como foram construídas as amostras dos participantes e não-participantes do projeto; e como esses grupos foram acompanhados ao longo dos anos.
Ou indo além, como tenho constado com alguma frequência nos Relatórios Anuais de algumas organizações do terceiro setor no Brasil, se afirma que para cada R$ 1,00 que a instituição investiu nos seus projetos sociais foram gerados R$ X,00 em impacto social. Nesse caso, como o impacto social da referida organização foi estimado naquele ano? Quais os critérios adotados para a conversão monetária?
No caso dessa relação custo-benefício estimada, suponha duas organizações atuando em área social semelhante, porém usando métodos diferentes embora com a mesma denominação. Ao final do ano, uma publicou relação de R$ 2,00 para cada R$1,00 investido, e a outra de R$ 6,00 para cada R$ 1,00 investido. Será que esse resultado discrepante é decorrência do desempenho superior da 2ª organização, ou mera questão metodológica e de tratamento dos seus dados?
Fazendo analogia com o artigo acima mencionado, o ponto que chamo a atenção é que o relato de impacto social, como nesses dois exemplos acima, deveria obedecer a critérios rigorosos para a sua estimativa, no sentido de seguir metodologias já devidamente validadas, respectivamente no campo da Pesquisa Quantitativa Experimental e do Protocolo SROI (Social Return On Investment). O que não pode é cada organização criar o seu próprio método e premissas para medir impacto social, sob a alegação de objetividade e simplicidade. Corre-se o risco de estar sendo simplório e, o pior, gerando caos e baixa credibilidade no campo avaliativo.
Cabe aqui fazer a distinção entre ‘ser simples` e´ ser simplório`. Ser simples é ter a capacidade de reter e raciocinar apenas sobre o que é relevante, dispensando o que é secundário. Ser simplório é conseguir raciocinar apenas sobre o que é fácil, assumindo uma atitude ingênua. A simplicidade (ou ser simples) é desejável; já ser simplório há que ser evitado.
Como se sabe, as avaliações de impacto baseadas em Pesquisa Experimental e no SROI são, em geral, onerosas, de longa duração e tecnicamente exigentes. Daí que, quando a iniciativa social não comportar/ demandar avaliação de impacto (pois não é toda iniciativa social que precisa ter o seu impacto avaliado!), ou quando a organização não tiver condições financeiras para “bancar” uma avaliação de impacto com o rigor estatístico necessário, a avaliação de impacto NÃO deve ser conduzida.
Nesse caso, então, há que se adequar a avaliação social às circunstâncias e condições da organização / projeto social. Ou seja, há que se fazer avaliações mais simplificadas, baseadas no alcance dos resultados de curto prazo, ou dos produtos, ou (apenas) ao cumprimento das atividades propostas. E, sempre que possível, seria recomendável fazer uso das chamadas “ferramentas de prateleira”, como são conhecidos os indicadores já devidamente validados para os conceitos abstratos, tão comuns em projetos sociais.
Assim como na área ambiental, também na área social precisamos caminhar na direção de harmonizar conceitos e procedimentos metodológicos para tratar os dados. Sempre que for possível. Com o agravante de que, comparativamente à área ambiental, a área social tende a ser muito mais diversa e cheia de especificidades no que se refere às diferenças entre indivíduos, contextos sociais e organizações. Pois na área ambiental 1 tonelada de GEE (Gás de Efeito Estufa) é sempre 1 tonelada de GEE….